Uma Revolução “Macroeconómica”?
O próximo mês marcará o décimo aniversário da crise financeira global, que começou em 9 de Agosto de 2007, quando o Banco Nacional de Paris anunciou que o valor de vários dos seus fundos, que continham supostamente os títulos hipotecários mais seguros dos EUA, tinha evaporado.
A partir desse dia fatídico, o mundo capitalista mais avançado experimentou o seu período mais longo de estagnação económica desde a década em que começou a grande depressão de Wall Street em 1929 e que terminou com o início da Segunda Guerra Mundial dez anos depois.
Há algumas semanas, na conferência Reencontros Económicos em Aix-en-Provence, foi-me perguntado se seria possível ter sido feito algo para evitar a “década perdida” de baixo desempenho económico desde a crise. Numa sessão intitulada “Já esgotámos as políticas económicas?”, os meus colegas conferencistas demonstraram que ainda não. Eles facultaram muitos exemplos de políticas que poderiam ter melhorado o crescimento da produção, o emprego, a estabilidade financeira e a distribuição do rendimento. Tal permitiu-me abordar uma questão que penso ser mais pertinente: tendo em conta a abundância de ideias úteis, porque foram poucas as políticas implementadas que poderiam ter melhorado as condições económicas e aliviado o ressentimento público desde a crise?
O primeiro obstáculo tem sido a ideologia do fundamentalismo de mercado. Desde o início da década de 1980, a política tem sido dominada pelo dogma de que os mercados estão sempre certos e que a intervenção económica do governo está quase sempre errada. Esta doutrina tomou forma com a contra-revolução monetária contra a economia keynesiana que resultou das crises inflacionárias da década de 1970, isto inspirou a revolução política de Thatcher-Reagan, que por sua vez ajudou a impulsionar um boom económico de 25 anos a partir de 1982. Mas o fundamentalismo de mercado também inspirou perigosas falácias intelectuais: os mercados financeiros são sempre racionais e eficientes; que os bancos centrais devem simplesmente atacar a inflação e não se preocuparem com a estabilidade financeira e com o desemprego; que o único legítimo papel da política fiscal é equilibrar orçamentos, e não estabilizar o crescimento económico. Mas, mesmo quando estas falácias estouraram o mercado-fundamentalista económico depois de 2007, as políticas de mercado-fundamentalista sobreviveram, impedindo uma resposta política adequada à crise. Isto não é nenhuma surpresa. O fundamentalismo de mercado não era apenas uma moda intelectual. Poderosos interesses políticos motivaram a revolução no pensamento económico da década de 1970. A evidência supostamente científica de que a intervenção económica do governo é quase sempre contraproducente, legitimou uma enorme mudança na distribuição de riqueza, dos trabalhadores industriais para os proprietários e gestores de capital financeiro e de poder, do trabalho organizado para os interesses comerciais.
O economista polaco Michal Kalecki, um co-inventor da economia keynesiana (e um parente distante meu), previu, com uma estranha precisão, essa reversão ideológica politicamente motivada em 1943: “O pressuposto de que um governo manterá o pleno emprego numa economia capitalista, se souber como fazê-lo, é falacioso. Sob um regime de pleno emprego permanente, “o saque” deixaria de desempenhar o seu papel como medida disciplinar, levando a ‘booms’ pré-eleitorais induzidos pelo governo. Os trabalhadores ficariam fora de controlo e os capitães da indústria ficariam ansiosos para “ensinar-lhes uma lição”. É provável que um bloco poderoso seja formado entre grandes negócios e interesses rentistas, e provavelmente encontrarão mais que um economista para declarar que a situação era manifestamente infundada “. O economista que declarou que as políticas governamentais para manter o pleno emprego eram “manifestamente infundadas” foi Milton Friedman. E a revolução do fundamentalismo de mercado que ele ajudou a liderar contra a economia keynesiana durou 30 anos. Mas, assim como o keynesianismo foi desacreditado pelas crises inflacionárias da década de 1970, o fundamentalismo de mercado sucumbiu às suas próprias contradições internas na crise deflacionária de 2007.
Uma contradição específica do fundamentalismo de mercado sugere outra razão para a estagnação do rendimento e o recente surgimento do sentimento populista. Os economistas acreditam que as políticas que aumentam o rendimento nacional, como o livre comércio e a desregulamentação, são sempre socialmente benéficas, independentemente da forma como esses rendimentos mais altos são distribuídos. Esta crença baseia-se num princípio chamado “Optimismo de Pareto”, que pressupõe que as pessoas que auferem rendimentos mais altos podem sempre compensar os perdedores. Portanto, qualquer política que aumente o rendimento agregado é à partida favorável para a sociedade, porque pode tornar as pessoas mais ricas, sem deixar ninguém pior.
E se a compensação assumida pelos economistas em teoria não acontecer na prática? E se a política fundamentalista de mercado proíbir especificamente a redistribuição de rendimento ou de subsídios regionais, industriais e educacionais que poderiam compensar aqueles que sofrem do livre comércio e da “flexibilidade” do mercado de trabalho? Neste caso, a optimização de Pareto não é socialmente optimista.
Em vez disso, as políticas que intensificam a concorrência, seja no comércio, no mercado de trabalho ou na produção doméstica, podem ser socialmente destrutivas e politicamente explosivas. Isto realça ainda mais um motivo para o fracasso da política económica desde 2007. A ideologia dominante de não intervenção do governo intensifica naturalmente a resistência à mudança entre os perdedores da globalização e da tecnologia, e cria problemas irresistíveis na sequenciação de reformas económicas. Para terem sucesso, as políticas monetárias, fiscais e estruturais devem ser implementadas em conjunto, a partir de uma ordem lógica e mutuamente reforçadora. Mas, se o fundamentalismo de mercado bloqueia as políticas macroeconómicas expansionistas e evita a tributação redistributiva ou a despesa pública, a resistência populista ao comércio, a desregulamentação do mercado de trabalho e a reforma das pensões devem intensificar-se. Por outro lado, se a oposição populista tornar impossíveis as reformas estruturais, tal encorajará a resistência conservadora à macroeconomia expansionista.
Suponhamos, por outro lado, que a economia “progressiva” de pleno emprego e redistribuição possa ser combinada com a economia “conservadora” do comércio livre e da liberalização do mercado de trabalho. As políticas macroeconómicas e estruturais seriam então mais fáceis de justificar politicamente - e muito mais propensas a ter sucesso. Poderá isto estar acontecer na Europa? O novo presidente da França, Emmanuel Macron, fundamentou a sua campanha eleitoral numa síntese das reformas trabalhistas “de direita” e uma flexibilização “de esquerda” das condições fiscais e monetárias - e as suas ideias estão a ganhar apoio na Alemanha e entre os políticos da União Europeia. Se a “Macroeconomia” - a tentativa de combinar políticas estruturais conservadoras com uma macroeconomia progressiva - conseguir substituir o fundamentalismo de mercado que falhou em 2007, a década perdida da estagnação económica poderá ser superada em breve - pelo menos na Europa.
Economista chefe e co-PCA da Gavekal Dragonomics. Antigo colunista do Times of London, do International New York Times e do Financial Times, é autor do Capitalismo 4.0 O Nascimento de um anova economia, que antecipou muitas das transformações da economia global.

































































































































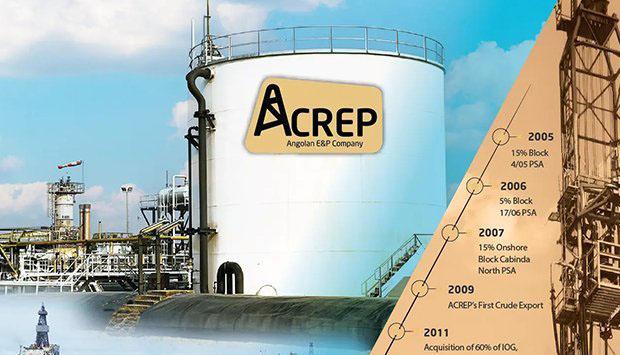




A EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR