"Em empreitadas acima de 15 milhões USD, as empresas locais não são chamadas"
Empresário ligado à construção civil, Kito Neto acusa o Governo de ter uma gestão opaca, por causa da adjudicação de grandes obras. Lembra que, quando autorizadas pelo Presidente da República, as empresas nacionais "nem são tidas, nem achadas". No entanto, elogia a importância do PIIM e tece duras críticas à opção pela cerca sanitária que, para ele, "rebentou com a economia".

Como está a construção civil em Angola?
Contribui bastante para a empregabilidade e para a economia, mas, devido à crise financeira, ficou significativamente afectada. Até 2013, quem chegasse de avião ou de carro a Luanda, poderia deparar-se com numerosas gruas em movimento. Era sinal de que o país estava a crescer. Em boa parte das províncias era assim também. Esse movimento parou e muitas gruas, se não estão paralisadas, desapareceram. No entanto, hoje regista-se uma 'lufada de ar fresco' graças ao Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).
O PIIM está a salvar empresas do sufoco?
Não há tanto crescimento como antes da crise, mas verifica-se, desde 2017, uma ligeira estabilidade no sector resultante desse programa de inspiração governamental.
Como está a impactar na actividade em termos concretos?
Quando não há dinheiro, naturalmente as pessoas não constroem e o maior cliente da construção civil é o Estado. A construção é, depois da agricultura, o maior empregador nacional e movimenta muita massa monetária. Logo, quando o Estado não tem dinheiro, a economia não acontece. O surgimento do PIIM, que é feito nos municípios, com a característica de a decisão de autorização das empreitadas ser dos administradores, veio facilitar quem tem pequenos negócios do sector da construção e encaixa alguma coisa com a adjudicação de obras.
Mas há quem se queixe da falta de transparência na adjudicação de obras e de atrasos no pagamento de empreitadas…
Mesmo em Luanda, e noutras paragens do país, temos obras a decorrer com quatro a sete meses de atraso, mas não se deve culpabilizar o programa. O problema não está no programa em si, mas na falta de preparação dos municípios e dos governos provinciais.
Preparação em que domínios?
O PIIM surgiu de repente e faltou formação técnica às pessoas que lidam directamente com o programa. Não deu tempo para se prepararem como desejado. Faltou exercício aos quadros da administração do Estado que estão à frente do programa.
E quanto à falta da transparência?
Também é outra verdade no sector da construção civil. A lei dos contratos públicos estabelece que os administradores municipais e os governadores têm um valor limite de autorização de despesa. Quando transcende, ou seja, quando os valores são muito elevados, por exemplo, na ordem de 11 mil milhões de kwanzas, cabe ao Presidente da República autorizar. Então reparamos que, quando é o PR a autorizar uma despesa, as empresas nacionais não são tidas nem achadas.
Quando o volume financeiro é maior também aumentam as probabilidades da opacidade do negócio?
A falta de transparência é quase generalizada, mas, quando se trata de grandes obras, o nível é também maior. Refiro-me a empreitadas acima de 15 milhões de dólares, em que as empresas locais não são chamadas.
Mas a Omatapalo, por exemplo, que é uma construtora de direito angolano, tem sido integrada nessas grandes operações, não?
Quem está à frente da Omatapalo? Quem são os verdadeiros proprietários desta empresa é algo que o cidadão comum desconhece. Eu também desconheço! Sei apenas que, quando lhe é adjudicada uma obra, há uma correria no recrutamento de quadros de topo, sobretudo em Portugal, para dirigir os projectos que depois são executados por angolanos. O mesmo acontece com outras grandes empreiteiras estrangeiras, incluindo chinesas e brasileiras. Isso é que está mal.
Como devia ser?
Temos de ser ricos no nosso país, ou seja, temos de ser chamados também para os grandes investimentos, não os que envolvem apenas 100 milhões de kwanzas, porque os angolanos são capazes.
Mesmo para obras mais exigentes do ponto de vista técnico?
Os estrangeiros percebem que temos muitas fragilidades. Quando nos vendem uma ideia, aceitamos rápido. Nós não nos aproveitamos, não nos acreditamos. Não somos capazes de dizer que podemos construir um prédio de vários andares. Somos muito fracos. Estamos a pensar, por exemplo, no rio Luanda e a questão não é de quem está a propor, mas a verdade é que o angolano não faz negócio com o angolano igual. Mesmo para uma pequena reparação da nossa casa, preferimos entregá-la a um português, brasileiro ou chinês, mas, no fundo, quem executa é o angolano.
É contra o construtor estrangeiro?
Não. Sou contra a concorrência desleal que existe no sector. E a culpa é do detentor do poder. Por exemplo, porque não são as empresas nacionais a construir a sede da CNE (Comissão Nacional Eleitoral)? Temos de ser mais ousados. Em todos os sectores da economia, teremos nacionais e estrangeiros. É, mais ou menos assim, em todo o mundo. Estamos numa aldeia global. Mas, quando o dinheiro é do nosso Produto Interno Bruto, devem ser os angolanos a executar. Os angolanos devem estar na linha das prioridades para terem também empresas pujantes capazes de competir em qualquer mercado. Quando quem traz o financiamento é o estrangeiro, claro que impõe regras, mas, na verdade, depois o dinheiro volta com juros. A construção civil é apenas uma questão de gestão de equipa, não tem muitos segredos.
O processo de adjudicação directa também tem sido muito contestado...
Nos casos em que há uma emergência, por exemplo, uma vala, uma conduta de água que se rompeu num determinado município, se esperar por um concurso burocrático, a situação pode-se agravar. Aí podemos avançar para a adjudicação simplificada, mas há outros casos em que devia haver mais transparência para obras de grande envergadura que devem antes passar por consulta pública como o Metro de Superfície de Luanda (MSL).
Mas, neste caso, o Governo anunciou o projecto...
A grande questão é que o nosso Governo também comunica mal. Não esclarece, não explica as vantagens que as pessoas poderão ter com isso a longo prazo. Portanto, o metro de superfície é um assunto actual, mas nunca vi nenhum engenheiro angolano chamado para uma abordagem técnica sobre esse projecto. Mas, quando se trata de uma ponte do Kamorteiro, por exemplo, vemos logo na televisão o angolano por detrás para explicar. São engenheiros mais ligados ao poder político que aparecem para justificar o que foi feito e não para dar uma explicação técnica.
O Metro não é uma prioridade?
Nós temos um problema enorme de mobilidade urbana em Luanda. Até agora, o Governo não encontrou solução para retirar o enorme fluxo de pessoas que circula diariamente da Estalagem para o largo 1º de Maio e vice-versa até Viana, num percurso de 12 quilómetros, quando temos soluções rápidas que podem ser aplicadas para melhorar esta situação de muita gente a querer entrar e sair do centro da cidade.
Que solução aponta?
Não preciso sair do Rangel para a Mutamba de carro ou de autocarro. Se tivesse uma ciclovia, todos os dias podia pegar na minha bicicleta de manhã para ir ao trabalho, na Marginal, e estacionar o carro em casa. São soluções urgentes que não pensamos do ponto de vista urbano.
É apenas isso?
Pensar, nesta altura, no metro é dar um salto maior do que a perna. No futuro, precisaremos, mas quando conseguirmos ter uma mobilidade de curto espaço resolvido.
O que isso significa?
Um outro problema em Luanda tem que ver com o reduzido índice de asfaltagem das ruas, nos bairros. Isso é que devia ser prioritário para garantir maior fluidez de trânsito de pessoas e peões. O metro é solução para grandes cidades que não têm problemas de água e têm a recolha de lixo acautelada. Um metro é símbolo de uma metrópole. Não fica bem descer do metro, de fato e gravata, e a estação a seguir tem um amontoado de lixo.
Em suma, uma metrópole desorganizada…
Temos uma metrópole com muita gente mal distribuída. Temos um Cazenga com uma elevada densidade populacional, mas não há um plano para descongestionar. Portanto, estamos mal distribuídos. Assim o nosso problema é de organização e não do metro. Temos de saber, por exemplo, qual é a demanda da via Luanda/Viana, quantas pessoas utilizam esta via e procurarmos a melhor solução. Quando digo que o nosso Governo comunica mal, é isso: assisto televisão, já sei que o metro vai custar mais de três mil milhões de dólares, mas nunca vi o projecto e a viabilidade explicada. Portanto, há pouca informação, quando era expectante o Governo dizer não só o percurso, mas as vantagens quanto ao número de pessoas a transportar de um ponto a outro. Em engenharia, não se pode ter dinheiro sem antes fazer o estudo preliminar, passar para o licenciamento que vai dar o valor a aplicar no projecto.
Está a dizer que os engenheiros não foram chamados?
O Ministério dos Transportes nunca convocou as ordens de engenheiros ou de arquitectos que têm uma opinião sobre projectos desta natureza. Esses projectos não podem ser tabus. Quem vai dar o dinheiro são os alemães, mas quem vai pagar somos nós. Esses projectos que envolvem muito dinheiro externo, e porque hipotecam o futuro dos nossos filhos e netos, têm de vir a público para serem devidamente discutidos e esclarecidos.
E qual é a sua opinião sobre o rio Luanda, uma proposta recentemente apresentada por engenheiros?
É de louvar por serem mesmo angolanos. Não é uma má solução até porque ainda está em discussão. Mas parece-me que os mentores do projecto também não têm tido apoio ao mais alto nível da engenharia. Contudo, eu alinho pelo urbanismo, ou seja, a distribuição das pessoas em relação ao meio e oferecer nesses espaços não só infra-estruturas básicas como água, electricidade e saneamento, mas serviços necessários como escolas, hospitais, supermercados, espaços de lazer. Temos de pensar nas ‘smart city’, ou seja, ‘cidades inteligentes’ que produzam por arrasto pessoas mais saudáveis.
As centralidades não respondem a essas inquietações?
Quantas pessoas vivem no Kilamba, no Sequele? Quantas vivem em zonas não infra-estruturadas? O problema é que boa parte da população de Luanda e do país vive em zonas não infra-estruturadas, sem estradas, água, esgotos ou energia eléctrica. Até podemos ter postos de iluminação pública nos bairros, mas se logo a seguir as pessoas escamam o peixe e deitam na rua, é fútil. Temos de viver em espaços abertos para termos saúde. Não posso viver num bairro em que atrás de casa há outra casa.
Nesse contexto, fica difícil atingirmos as ‘smart city’?
As autarquias são a solução para esse tipo de cidades, porque são os munícipes a decidir a liderança. Aqui, os nossos administradores vivem no Talatona, na Mutamba e não nas áreas de jurisdição. Por isso, não conhecem as pessoas. Além disso, o problema de quem tem um cargo na administração pública é a preocupação de agrada mais a quem o nomeou do que ao cidadão a quem deve servir. Temos de levar para as nossas cidades à modernidade, tudo que é aplicativo para uma vida saudável. Avancemos para as eleições autárquicas e ali o autarca terá um engajamento maior porque vai temer a comunidade que o elegeu.
Discorda da ideia dos condomínios?
O Talatona foi um absurdo do ponto de vista arquitectónico. Aquilo parece um campo de concentração. É viver atrás das grades. Até podíamos ter cidades nobres, como em outras paragens, o que faz parte da competitividade económica de um país, mas no caso do Talatona, por exemplo, os muros são muito altos e configuram a separação entre ricos e pobres, mas, muitas vezes, quem lá está não tem muito dinheiro. Portanto, devíamos ter mais Kilambas e Sequeles, não falo tanto da qualidade das obras, mas do que lá está devíamos transportar para o Rangel, Bairro Popular, entre outros bairros da capital.
O retorno do investimento nas centralidades é outra questão?
O Governo não estava muito preocupado com o retorno, porque o petróleo estava em alta e havia garantias no pagamento de rendas. O funcionário não estava apertado financeiramente. Hoje, os salários perderam expressão e o pagamento dos arrendamentos também está comprometido. Mas quem vive nessas centralidades, em grande parte, é o cidadão de nível médio que exerce certa influência para quem está cá em baixo. Logo, o Estado não actua. Precisa desse dinheiro, mas não pode 'apertar' por causa do pressuposto político.
Subscreve a ideia da Associação dos Promotores Imobiliários de Angola (Apima) que defende a aplicação de 2% dos 22% das reservas obrigatórias dos bancos no BNA para impulsionar a habitação social?
O Estado deve criar mecanismos de envolver os bancos e empresas nesse processo. No Kwanza-Norte, qual é a acção social da Ende que explora a barragem de Cambambe para vender energia eléctrica a Luanda? Qual é a contrapartida, se o próprio município de Cambambe nem sequer tem água potável? Defendo que as grandes empresas devem contribuir para melhorar a vida nas comunidades onde operam, criando fundos para a construção de habitação social e infra-estruturas.
Mas já têm uma comparticipação tributária?
O lado social das empresas não pode ser condicionado por questões tributárias. Como empresário, não sou obrigado a dar dinheiro para a construção de uma escola, mas, por uma questão de ética, quando vou explorar uma terra, ganho dinheiro e depois saio sem deixar nada para as comunidades. Já não é ético, sobretudo quando temos margem de lucro.
A abertura da cerca sanitária a Luanda ‘desafoga’ as empresas e os negócios?
O que rebentou com a nossa economia não foi apenas a redução dos preços do petróleo ou a questão pandémica, mas sobretudo as medidas de gestão. Ter Luanda, o maior centro comercial do país, quase dois anos sob cerca sanitária, foi um erro. Isso rebentou com as famílias.
É um sentimento de revolta?
Não se devia fechar o maior centro económico do país. Os pequenos empresários que, da Huíla traziam chouriço caseiro e carne e levavam outros produtos, tendo como um dos motores desses negócios o sector dos transportes, vão ter de recomeçar do zero. A Macom praticamente desapareceu. A cerca sanitária foi uma grande falha e não encontro explicação para essa medida.
Perfil
Um empresário optimista
Natural do Kwanza-Norte, Kito João Neto licenciou-se em engenharia civil e tem uma pós-graduação em economia e gestão de negócios em Portugal. É CEO da Protecos, empresa de fiscalização de projectos de construção civil. Ganhou obras públicas e privadas em Luanda e no Kwanza-Sul, onde se notabilizou, em 2020. Amargurado “porque dificilmente uma empresa de fiscalização angolana ganha contratos acima dos dez milhões de dólares”, Kito Neto dirige uma equipa de cerca de 40 colaboradores. Confessa-se um "optimista”, mas avisa que para se acabar com a estagnação e a fuga de cérebros, há que apostar nos recursos humanos locais.

































































































































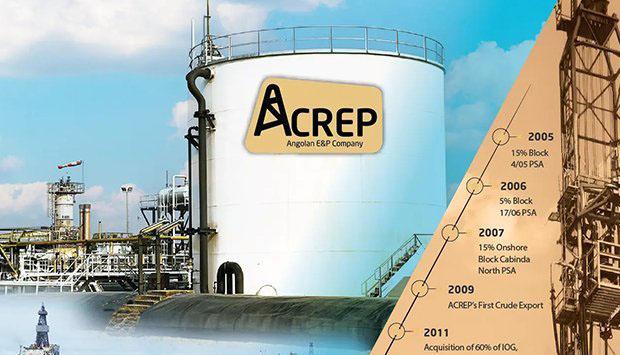








A EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR