
Dani Rodrick
O dilema da tecnologia dos países pobres
Um contrato social pós-pandemia
O desafio dos bons empregos
Em todo o mundo, o desafio central para alcançar a prosperidade económica inclusiva é a criação de um número suficiente de ‘bons empregos’. Sem emprego produtivo e confiável, para a grande maioria da força de trabalho, o crescimento económico permanece indefinido ou os seus benefícios acabam concentrados numa pequena minoria. A escassez de bons empregos também mina a confiança nas elites políticas, adicionando combustível à reacção autoritária que afecta muitos países hoje. A definição de um ‘bom trabalho’ depende, obviamente, do nível de desenvolvimento económico de um país. Normalmente, é uma posição estável do sector formal que vem com protecções laborais básicas, como condições de trabalho seguras, direitos de negociação colectiva e regulamentações contra despedimentos arbitrários. O ‘bom trabalho’ permite, pelo menos, um estilo de vida de classe média, pelos padrões do país, com rendimentos suficientes para ter casa, alimentação, transporte, educação e outras despesas familiares, além de economizar. Há muito que as empresas individuais, em todo o mundo, podem fazer para melhorar as condições de emprego. Grandes empresas que tratam melhor os seus funcionários - proporcionando-lhes maior remuneração, maior autonomia e maior responsabilidade - muitas vezes obtêm benefícios na forma de menor rotatividade, melhor moral dos trabalhadores e maior produtividade. Como Zeynep Ton, do MIT, argumenta há muito tempo, as estratégias dos ‘bons empregos’ podem ser tão lucrativas para as empresas quanto para os trabalhadores. Mas o problema mais profundo é estrutural e vai além do que as empresas podem fazer sozinhas. Tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento sofrem com o crescente descompassado entre a estrutura de produção e a força de trabalho. A produção está a tornar-se cada vez mais intensiva em termos de capacidade, enquanto a maior parte da força de trabalho permanece pouco qualificada. Isso gera uma lacuna entre os tipos de trabalho criados e os tipos de trabalhadores que o país possui. A tecnologia e a globalização conspiraram para ampliar essa lacuna, com a manufactura e os serviços cada vez mais automatizados e digitalizados. Embora as novas tecnologias possam ter beneficiado os trabalhadores pouco qualificados, na prática, o progresso tecnológico tem sido, em grande parte, substituto do trabalho. Além disso, os fluxos globais de comércio e investimento e as cadeias de valor globais, em particular, homogeneizaram técnicas de produção em todo o mundo, tornando muito difícil para os países mais pobres competir nos mercados mundiais sem adoptar técnicas intensivas de capital e capacidades semelhantes às do mercado mundial e das economias avançadas. O resultado é a intensificação de um dualismo económico. Actualmente, todas as economias do mundo estão divididas entre um segmento avançado, típica e globalmente integrado, empregando uma minoria de trabalhadores e um segmento de baixa produtividade que absorvem a maior parte da força de trabalho, geralmente com baixos salários e em condições precárias. As acções dos dois segmentos podem diferir: os países desenvolvidos obviamente têm uma maior preponderância de empresas altamente produtivas. Mas, qualitativamente, o quadro parece bastante semelhante em países ricos e pobres - e produz os mesmos padrões de desigualdade, exclusão e polarização política. Logicamente, existem apenas três maneiras de reduzir a desproporção entre a estrutura dos sectores produtivos e a da força de trabalho. A primeira estratégia, e aquela que recebe a maior parte da atenção das políticas, é o investimento nas capacidades e na formação. Se a maioria dos trabalhadores adquirisse as capacidades exigidas pelas tecnologias avançadas, o dualismo acabaria por se dissipar à medida que os sectores de alta produtividade se expandissem. As políticas de capital humano são naturalmente importantes, mas mesmo quando são bem sucedidas, os seus efeitos serão sentidos no futuro. Fazem pouco para abordar as realidades do mercado de trabalho no presente. Simplesmente, não é possível transformar a força de trabalho da noite para o dia. Além disso, há sempre o risco real de que a tecnologia avance mais rápido do que a capacidade da sociedade de educar os participantes da força de trabalho. Uma segunda estratégia é convencer as empresas de sucesso a empregar mais trabalhadores não qualificados. Em países onde as lacunas de capacidades não são enormes, os governos podem (e devem) estimular as suas empresas bem-sucedidas a aumentar o emprego - seja directamente ou através de fornecedores locais. Os governos dos países desenvolvidos também têm um papel a desempenhar, afectando a natureza da inovação tecnológica. Frequentemente, subsidiam tecnologias que substituem a mão-de-obra e usam capital intensivo, em vez de impulsionar a inovação em direcções socialmente mais benéficas, para aumentar em vez de substituir trabalhadores menos qualificados. É improvável que tais políticas façam muita diferença para os países em desenvolvimento. Para estes, o principal obstáculo continua a ser a substituição as tecnologias, em que se usa mão-de-obra menos qualificada em vez de profissionais qualificados ou capital físico. Os exigentes padrões de qualidade necessários para fornecer cadeias de valor globais não podem ser facilmente atendidos pela substituição de máquinas por mão-de-obra manual. É por isso que a produção globalmente integrada, mesmo nos países com maior abundância de mão-de-obra, como a Índia ou a Etiópia, depende de métodos relativamente intensivos em capital. Isso deixa um enigma a uma ampla gama de economias em desenvolvimento - de países de rendimento médio, como o México e a África do Sul, a países de baixo rendimento, como a Etiópia. O remédio-padrão para melhorar as instituições educacionais não produz benefícios a curto prazo, enquanto os sectores mais avançados da economia não conseguem absorver o excesso de oferta de trabalhadores pouco qualificados. Resolver este problema pode exigir uma terceira estratégia, que talvez seja a que merece menos atenção: impulsionar uma gama intermediária de actividades económicas com mão-de-obra intensiva e pouco qualificada. Turismo e agricultura não tradicionais são os principais exemplos de sectores de absorção de mão-de-obra. Emprego público (na construção e prestação de serviços), há muito desprezado por especialistas em desenvolvimento, é outra área que pode exigir atenção. Mas os esforços dos governos podem ir muito além. As actividades intermediárias, principalmente serviços não transaccionáveis realizados por pequenas e médias empresas, não estarão entre as mais produtivas, razão pela qual raramente são o foco de políticas industriais ou de inovação. Mas ainda podem oferecer empregos significativamente melhores do que as alternativas no sector informal. A política em países desenvolvidos e em desenvolvimento é muito frequentemente preocupada em impulsionar tecnologias mais avançadas e em promover empresas mais produtivas. Mas o fracasso em gerar bons empregos de classe média tem altos custos sociais e políticos. Reduzir esses custos requer um foco diferente, voltado especificamente para o tipo de trabalho alinhado com a composição de capacidades prevalecentes da economia. Professor de Economia Política Internacional na Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard.
A dupla ameaça à democracia liberal
A crise da democracia liberal é altamente criticada hoje. A presidência de Donald Trump, o voto de Brexit no Reino Unido e a ascensão eleitoral de outros populistas na Europa reforçam a ameaça representada pela ‘democracia iliberal’ - uma espécie de política autoritária com eleições populares, mas com pouco respeito pela lei ou pelos direitos das minorias. Mas alguns analistas defendem que a democracia iliberal - ou o populismo - não é a única ameaça política. A democracia liberal também está a ser minada pela tendência de enfatizar o ‘liberal’ à custa da ‘democracia’. Neste tipo de política, os governantes estão isolados por uma panóplia de restrições que limitam a gama de políticas com responsabilidade democrática que podem oferecer. Corpos burocráticos, reguladores autónomos e tribunais independentes estabelecem políticas que são impostas de fora ou pelas regras da economia global. No novo e importante livro ‘O Povo vs. Democracia’, o teórico político Yascha Mounk chama a este tipo de regime – fazendo um paralelo com a democracia iliberal – o ‘liberalismo antidemocrático’. Mounk defende que os nossos regimes políticos deixaram de funcionar como democracias liberais e parecem-se, cada vez mais, com o liberalismo antidemocrático. A União Europeia talvez represente o apogeu desta tendência. O estabelecimento de um mercado único e a unidade monetária, na ausência de integração política, exigiram a transferência de políticas a órgãos tecnocráticos, como a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Tribunal de Justiça Europeu. A tomada de decisões ocorre cada vez mais a uma distância considerável do povo. Embora a Grã-Bretanha não seja um membro da Zona Euro, os chamados ‘brexiteers’, para “recuperar o controlo”, capturaram a frustração de muitos eleitores europeus. Os EUA não experimentaram nada assim, mas algumas tendências parecidas fazem com que muitas pessoas se sintam privadas dos seus direitos. Como observa Mounk, a formulação de políticas é um meio – tipo uma sopa de letras, para governar pessoas - da Agência de Protecção Ambiental (EPA) à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, sigla em inglês). O uso dos tribunais independentes, com as suas prerrogativas de revisão judicial para promover direitos civis, expandir a liberdade reprodutiva e introduzir muitas outras reformas sociais, encontrou hostilidades entre segmentos consideráveis da população. E as regras da economia global, administradas através de acordos internacionais como a Organização Mundial de Comércio (OMC) ou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), são amplamente percebidas como sendo manipuladas contra trabalhadores comuns. O valor do livro de Mounk pretende destacar a importância dos termos constitutivos da democracia liberal. Precisamos de restrições sobre o exercício do poder político para impedir que as maiorias (ou as que estão no poder) esbarrem nos direitos das minorias (ou aqueles que não estão no poder). Mas também precisamos de políticas públicas para responder às preferências do eleitorado. A democracia liberal é inerentemente frágil porque conciliar os seus termos não produz um equilíbrio político natural. Quando as elites têm poder suficiente, mostram-se com pouco interesse para reflectir sobre as preferências do público em geral. Quando as massas se mobilizam e exigem poder, o compromisso resultante com as elites raramente produz garantias sustentáveis de protecção dos direitos daqueles que não estão representados nas mesas de negociações. Assim, a democracia liberal tende a deteriorar-se numa ou noutra das suas perversões - no liberalismo antidemocrático. No artigo ‘A Economia Política da Democracia Liberal’, Sharun Mukand e eu discutimos os fundamentos da democracia liberal em termos semelhantes aos de Mounk. Enfatizamos que as sociedades estão divididas por duas potenciais clivagens: uma divisão identitária que separa uma minoria da maioria étnica, religiosa ou ideológica e um abismo na riqueza que separa os ricos do resto da sociedade. A profundidade e o alinhamento dessas divisões determinam o potencial de vários regimes políticos. A democracia liberal é sempre subjugada pela democracia iliberal, numa extremidade, ou pela ‘autocracia liberal’, na outra, dependendo se a maioria ou a elite mantêm a vantagem. No Ocidente, o liberalismo precedeu à democracia: a separação de poderes, a liberdade de expressão e o estado de direito já estavam em vigor antes de as elites concordarem em expandir os privilégios e se submeterem ao escrutínio popular. A ‘tirania da maioria’ continuou a ser uma grande preocupação para as elites e foi contrariada nos EUA, por exemplo, com um elaborado sistema de pesos e contrapesos, paralisando efectivamente o executivo por um longo tempo. Noutros lugares, no mundo em desenvolvimento, a mobilização popular ocorreu na ausência de uma tradição liberal ou de práticas liberais. A democracia liberal raramente foi um resultado sustentável. As únicas excepções parecem ser os estados de nação relativamente iguais e altamente homogéneos, como é o caso da Coreia do Sul, onde não há divisões sociais, ideológicas, étnicas ou linguísticas óbvias para os autocratas de qualquer tipo - iliberal ou não democrático – explorarem. Os desenvolvimentos de hoje na Europa e nos EUA sugerem a vexante possibilidade de que a democracia liberal também tenha sido uma fase passageira. À medida que nos ocupamos da crise da democracia liberal, não esquecemos que o iliberalismo não é a única ameaça que a confronta. Também temos de encontrar uma maneira de contornar as armadilhas da democracia. Professor de Economia Política Internacional da Universidade de Harvard, EUA.


































































































































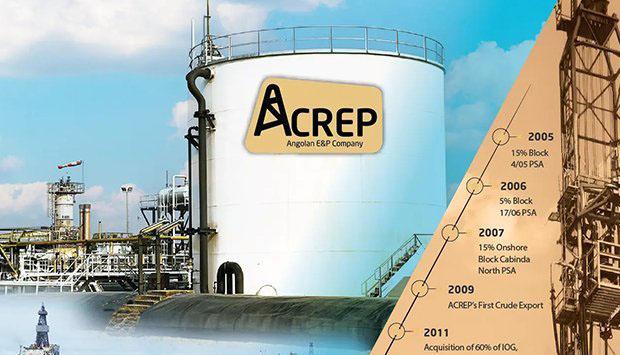








A EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR