O futuro da convergência económica
Quem pode agora sustentar o rápido crescimento económico? A resposta a essa pergunta determinará não apenas a geografia da prosperidade nas próximas décadas, mas também como será o equilíbrio da actividade económica global em 2030 ou 2050. Cada vez mais parece plausível que esse equilíbrio se distancie dos EUA e aliados do pós-Segunda Guerra Mundial e se desloque em direcção às novas potenciais superpotências económicas, China e Índia. No papel, o crescimento económico – um aumento sustentado da produtividade – pode parecer simples. A produtividade de uma economia, ou do produto ‘per capita’, é uma função do ‘stock’ de capital, mão-de-obra (o número de trabalhadores e qual grau de formação eles têm) e um resíduo reconhecidamente vago conhecido como ‘produtividade total dos factores’, que explica como o capital e o trabalho são organizados. A ideia básica por detrás do crescimento económico moderno – iniciado no final do século XVIII – é que envolve a construção de capital físico (edifícios, máquinas e infra-estruturas), aumentando os níveis de educação e combinando esses ‘factores de produção’ de maneira a aumentar a produtividade. A inovação tecnológica, seja caseira ou importada, geralmente ajuda. Não há segredos profundos aqui. Os países vêm crescendo dessa maneira há mais de 200 anos. Pode adaptar-se uma estratégia de crescimento com base nos recursos naturais, como carvão abundante ou acesso ao mar. Pode-se crescer confiando no papel mais forte do Estado (como em Singapura) ou confiando principalmente no sector privado (como em Hong-Kong). Porque, então, tantos países acham difícil crescer de maneira sustentada? Porque 50 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, houve pouca convergência no rendimento ‘per capita’. As economias ricas (Europa Ocidental, EUA, Canadá e Austrália) avançaram firmemente, enquanto a maioria dos países mais pobres, apesar de alguns episódios de crescimento decente, não se aproximou significativamente dos níveis de produtividade e rendimento dos líderes da lista. As relativamente poucas surpresas positivas de crescimento nos últimos 50 anos foram quase todas em países asiáticos que inicialmente se concentravam na exportação de produtos manufacturados baratos e depois encontravam maneira de melhorar a qualidade e oferecer produtos mais sofisticados. O Japão pode ser considerado o primeiro país não europeu a usar esse caminho de desenvolvimento; Coreia do Sul, Singapura, Hong-Kong e outros copiram os modelos. Muitas vezes, considera-se que o desenvolvimento da China segue linhas semelhantes, conforme está documentado num recente relatório do McKinsey Global Institute. A explicação mais directa é que as elites desses países descobriram que se sairiam bem com as exportações associadas a um crescimento económico. Consequentemente, aplicaram essa política, mantiveram a corrupção sob controlo e fizeram com que os governos fossem trabalhando de maneira razoável. Analisando os dados recentes sobre o desempenho económico em todo o mundo, Arvind Subramanian, ex-assessor económico do primeiro-ministro indiano, e os seus colegas argumentam que a convergência no rendimento ‘per capita’ está a a consolidar-se de forma mais ampla. Isso é inteiramente plausível e pode significar que mais elites favorecem o crescimento. O efeito de demonstração da China pode ser convincente, com a lição de que é possível implementar as reformas necessárias para crescer rapidamente enquanto permanecer no poder. Isso pode parecer cínico, mas na verdade é uma mensagem optimista, pelo menos, em termos das perspectivas de reduzir a pobreza em todo o mundo. Como resultado, há boas razões para pensar que a China e a Índia podem sustentar taxas de crescimento anuais de cerca de 7%, enquanto países desenvolvidos como os EUA tendem a uma média de crescimento de 2-3%. A extrapolação dessas taxas de crescimento sugere que os mercados emergentes poderiam representar mais de 50% do PIB mundial medido a taxas de câmbio de mercado até 2030. Certamente, haverá obstáculos na estrada, mas é provável que haja progresso constante. O impacto sobre o sistema global, com a estrutura existente de instituições multilaterais (como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio) e uma miríade de organizações que estabelecem padrões e consensos, pode ser menor do que se pensa. É difícil criar novas regras e normas. Como o sistema existente permite crescimento, por que não trabalhar apenas dentro dele? Para os EUA, enquanto o dólar continua a ser a principal moeda de reserva do mundo e o seu porto seguro, o impacto de cair para segundo ou talvez até mesmo terceiro lugar, em termos de produção económica, pode não ser tão grande. Na verdade, os EUA poderiam sair-se bem como fonte de inovação de novos produtos, vendendo para um mercado global maior. Os principais factores que prejudicam as perspectivas de prosperidade dos EUA são, em grande parte, o resultado das suas próprias decisões políticas. Défices fiscais insustentáveis, uma política comercial questionável, um alto nível de desigualdade, infra-estrutura em ruínas, escolas de baixo desempenho e cuidados de saúde inacessíveis são o resultado de escolhas domésticas. Se os norte-americanos lidam ou não com essas questões tem pouco que ver com a China ou a Índia. Antigo economista-chefe da FMI, professor do Peterson Institute for International Economics.

































































































































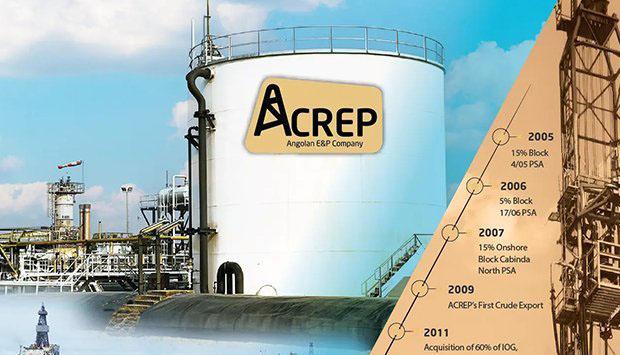








A EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR