“A primeira geração da reconstrução não poderia ser a reconstrução que iria levar-nos 20, 30 anos para a frente”
José Pedro de Morais é o economista a quem José Eduardo dos Santos entregou a gestão das Finanças Públicas na fase crítica da reconstrução pós-guerra (2002-2008). Nesta entrevista, cuja segunda parte será publicada na próxima edição deste jornal, o também antigo governador do BNA dá a sua perspectiva, sem tabus, na condição de quem teve de tomar decisões num contexto em que estava tudo partido. Explica por que foram os chineses (e não portugueses ou franceses) que foram parar em zonas recônditas para o início da reconstrução, detalha as condicionantes que se impuseram na relação com o Banco Mundial e o FMI e considera “excessivo” que a corrupção seja tomada como uma punição colectiva dos angolanos.

numa altura em que se assinalam os 50 anos da Independência, como avalia o sector financeiro?
A avaliação que faço do sistema financeiro é muito positiva. Registou muitos progressos, tendo em conta que, desde a Independência até aos nossos dias, o país registou muitas transições. Uma transição do país no período colonial para um país independente; depois outra transição de um sistema de economia centralizada para um sistema de economia mais orientado para o mercado, da mesma maneira uma transição de uma economia de guerra para uma economia de paz. Foi preciso todas as instituições do país se adaptarem a estas várias disrupções. O sistema financeiro terá sido, provavelmente, o que registou maiores progressos, quer no sector público, quer no sector privado, nomeadamente na banca. Eu, particularmente, entrei no sistema financeiro em 2002, alguns meses depois dos acordos de paz assinados no Luena. Nessa altura, ficaram criadas as condições para uma progressiva normalização da vida de todos nós, mas é um período que nos deixou todos confrontados com vários desafios. Tínhamos quatro milhões de pessoas deslocadas dos seus locais de origem, fruto da guerra. A Unita tinha declarado 100 mil ex-combatentes que tinham de ser reinseridos na vida civil no quadro dos Acordos de Paz. Eram obrigações dos Acordos de Paz que tinham de ser cumpridas, mas o país estava completamente devastado em 2002. A guerra tinha atingido as principais infra-estruturas económicas, estradas, portos centrais eléctricas, sistemas de abastecimento de água, etc. O outro grande desafio é que era absolutamente necessário ligar o país para podermos estender a administração do Estado a todos os pontos do país. E isto porque os Acordos do Paz também estabeleciam que, logo que houvesse condições, teriam de ser realizadas eleições. Portanto, os ministérios da área económica, nesta altura, tinham esta grande responsabilidade de fazer tudo acontecer num ambiente de grande pressão. Os desafios estavam perfeitamente colocados. Reinserir as pessoas que estavam deslocadas para os seus locais de origem, criar condições de sobrevivência destas pessoas e criar condições para se fazerem as eleições.
Estes desafios eram os principais determinantes na elaboração dos orçamentos?
Os orçamentos que foram sendo desenhados tinham de ter estes aspectos em consideração. Tínhamos recursos para fazer isso tudo? Claramente não. Quando entro no Ministério das Finanças, em Dezembro de 2002, as reservas internacionais líquidas estavam em 200 milhões de dólares apenas. O Tesouro teve muita dificuldade de pagar os salários nesse mês de Dezembro. Não tínhamos recursos para enfrentar os desafios que se colocavam na reconstrução nacional e era preciso repensar tudo. Reformas que achávamos que pudessem ser feitas a nível da gestão financeira para torná-la mais eficaz. Uma das reformas que fizemos foi a nível da cabimentação orçamental. Tomámos medidas para que a cabimentação orçamental estivesse mais calibrada à capacidade efectiva de pagamento do tesouro. Porque, anteriormente, o que acontecia é que se definia o orçamento e, em função do orçamento, atribuíam-se cotas às unidades orçamentais que eram praticamente uma divisão duodecimal do orçamento. Ora, isto não era muito realista porque o que isto fazia era gerar uma dívida flutuante porque a expectativa de receita nem sempre se realizava, mas a despesa acontecia sempre. Introduzimos esta grande reforma fazendo com que a cabimentação orçamental estivesse subordinada a esta capacidade de pagamento do Tesouro, que era determinada num instrumento que chamamos de Programação Financeira do Tesouro. Aí definíamos exactamente qual era a expectativa da receita, quais eram os compromissos dos contratos de longo prazo que iriam acontecer ou que já estavam contratualizados e, portanto, impactavam na execução da despesa e determinávamos, finalmente, quais eram os limites orçamentais que as unidades orçamentais podiam executar. Aquela dívida flutuante que se constituíam em restos a pagar no final do ano, mas o Tesouro, depois, não tinha condições de pagar, constituíam-se em dívida. Durante muitos anos foi acontecendo uma dívida a fornecedores que depois o país teve muita dificuldade em lidar com isso.
Além desta reforma, houve outras relevantes?
Depois, estabelecemos com o Banco Central um protocolo de gestão das nossas operações, porque tínhamos uma situação, também acontece agora, mas naquela altura se calhar era mais impactante, em que os fluxos financeiros do Tesouro tinham um impacto monetário muito grande. E era preciso fazer com que esses fluxos financeiros do Tesouro, que eram os mais predominantes em toda a economia, fossem neutros do ponto de vista monetário, ou seja, não gerassem inflação. Era uma situação que debatíamos muito: as equipas do Ministério das Finanças e do Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola insistia que a inflação era proveniente dos gastos excessivos do Tesouro. Do ponto de vista teórico, é evidente que a inflação tem sempre origem fiscal. Mas, a partir de 2005, houve uma recuperação do preço do petróleo e o Tesouro começou a ter receitas suficientes, a tal ponto que começou a ter uma posição de poupador líquido no sistema financeiro. Ou seja, o Tesouro tinha reservas financeiras depositadas junto do Banco Central, em vez daquela posição clássica em que é o Banco Central que tem um crédito líquido sobre o Governo. Tínhamos uma posição inversa. E, nesta posição, nunca o Tesouro poderia ser o originador da situação de inflação. Nestas discussões entre as duas equipas, encontrámos a solução do problema. E a solução tinha justamente a ver que uma parte significativa da receita do tesouro era proveniente em divisas. Divisas essas que eram depositadas nas contas do Banco Nacional de Angola que convertia estas divisas em kwanzas para os gastos do Tesouro. Até aí tudo normal, o que acontecia é que, quando o tesouro fosse efectuar a despesa com estes kwanzas escriturados nos seus livros, isto tornava-se inflação, porque estes kwanzas não existiam previamente na economia, eram sempre kwanzas escriturados cada vez que se recebiam impostos. Portanto, havia aqui uma um sistema quase que autogerador de inflação.
Para ler o artigo completo no Jornal em PDF, faça já a sua assinatura, clicando em 'Assine já' no canto superior direito deste site.










































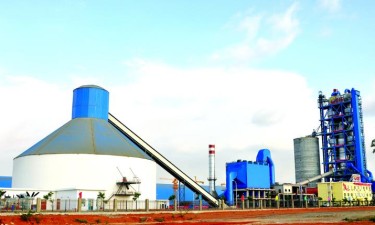

















































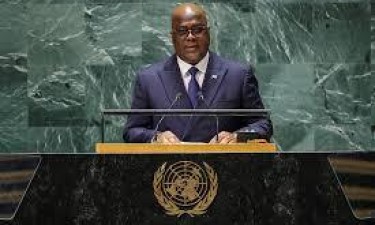






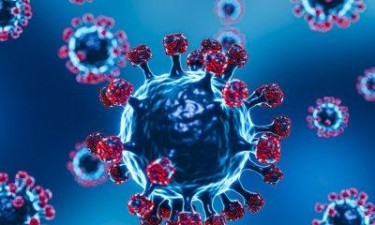









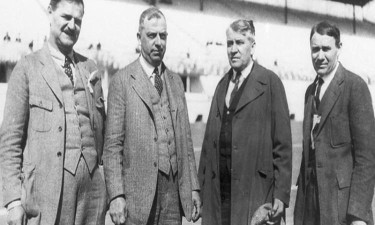
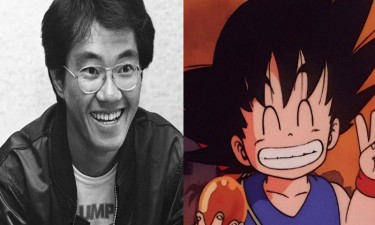

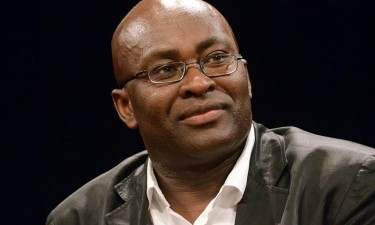


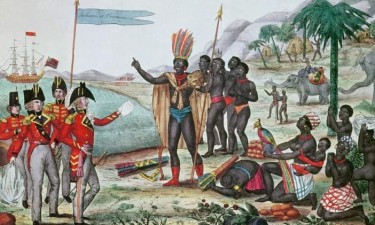



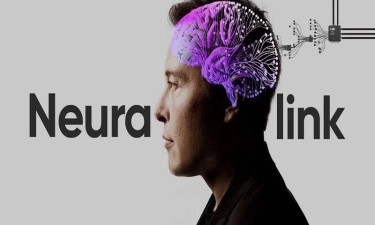












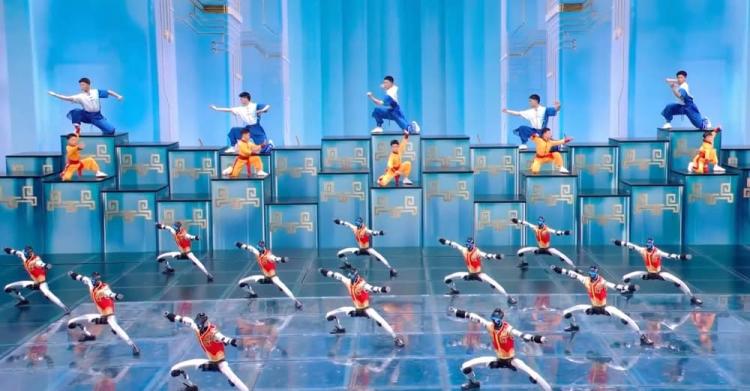





Confirmado uso de software espião contra jornalistas e activistas em Angola