DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA, EDUCAÇÃO E POBREZA
A diversificação é uma totalidade social e sociológica. Vê-la e analisá-la do estrito ponto de vista económico/estatístico e das políticas públicas nos domínios da agricultura e indústria é um erro. A diversificação dos tecidos económicos e das matrizes produtivas é um processo de transformação dos diferentes elementos da FORMAÇÃO SOCIAL de cada um dos países, onde se inserem as forças produtivas, as relações de produção e os modos de fazer a produção acontecer. É um processo de transformação de mentalidades que facilita e promove a ocorrência de alterações nas bases e nas superestruturas dos sistemas económicos e sociais. Por isso, a educação é o factor decisivo, porque é por seu intermédio que se transformam as mentalidades e se criam as elites de empresários/gestores e de trabalhadores de elevados índices de capital humano.

Os grandes sucessos de crescimento económico com diversificação das estruturas económicas e matrizes de produção, ocorreram em contextos de reformas estruturais, estruturantes e sustentadas dos sistemas de educação, seja na Europa hoje desenvolvida, das social-democracias e das economias sociais de mercado (Noruega, Finlândia, Suécia, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Reino Unido, França), seja nos emergentes-desenvolvidos, onde democracias avançadas e confirmadas (Coreia do Sul, Japão, Singapura, Índia), coexistem com regimes políticos autoritários (China exemplo mais comumente referenciado de autocracia com crescimento e desenvolvimento 1). Em todos estes países, a EDUCAÇÃO teve direitos de alforria e de reconhecimento de cidadania e se transformou no principal factor de e das mudanças incidentes sobre o progresso social (com ajustamento transformativo das mentalidades). A despeito de estarem num patamar em que as infraestruturas materiais e imateriais da educação se encontrem em níveis elevados, as respectivas funções de preferência estatal continuam a atribuir a este sector elevada prioridade, num contexto internacional de crescente globalização e radicalização da concorrência. Em alguns dos países acima aludidos, a REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO começou há mais de 70 anos, em alguns casos interrompida pelas agruras das guerras mundiais, mas nunca tendo sido dada por concluída, num contexto mundial cada vez mais competitivo e arrasador dos movimentos conformistas e de estruturas empresariais com pouca iniciativa própria e sempre dependentes do Estado2.
A transformação da pobreza em potencial de desenvolvimento ajuda a estruturar a componente da procura final do sistema económico, a valorizar os rendimentos do trabalho e a criar uma densidade mínima de procura endógena. Os elevados níveis de pobreza em muitos países africanos, associados aos significativos índices de desemprego, constituem um óbice claro ao processo de diversificação, via de regra gerador de exclusão quando os modelos de crescimento se baseiam em capital e tecnologia intensiva. A defesa do emprego depende, então, da qualidade da força de trabalho, a única via para serem gerados salários-padrão elevados. Salários baixos, taxas de pobreza significativas, níveis baixos de competências empresariais constituem a tempestade perfeita que evita/retarda a diversificação das economias. Dados oficiais recentes avaliam o salário médio mensal nacional em cerca de 160000 Kwanzas, incompatíveis com a criação de uma capacidade de procura interna competente para alavancar o crescimento da produção. A taxa de pobreza multidimensional é de 52% (IDREA 2018/2019) e a taxa de pobreza monetária de 41% (INE, 2018) que actualizada para 202, depois de seis anos consecutivos de recessão económica com degradação social, pode ser estimada em 48%. Os esforços para reduzir significativamente esta taxa até 2030, apelam a uma dinâmica média anual de crescimento do PIB de 15%.
A diversificação das economias é o seu estado natural, porque não existem sistemas económicos estáticos ou de reprodução simples na terminologia de Karl Marx (provavelmente só o do Robinson Crusoé3). O crescimento e a transformação no tempo são as suas características essenciais, sendo, afinal de contas, a diversificação a sua consequência mais evidente. Neste sentido, não há nem início, nem fim dos processos de diversificação nas economias de mercado, que funcionam na base dos comportamentos adaptativos e reactivos dos agentes económicos. Também da sua capacidade de pró-actividade, através do que Joseph Schumpeter chamou de “destruição criadora”.
Hoje parece ser um dado adquirido a importância da educação e do capital humano no crescimento económico e desenvolvimento social. Até à década de 70 do século passado, embora se considerasse a educação como parte dos padrões culturais das sociedades desenvolvidas da Europa e da América, não se tinha a verdadeira noção de como influenciava o progresso e em que quantidade. Os espectaculares casos de crescimento económico acentuado no conjunto de países que ficaram conhecidos como os Tigres Asiáticos (República da Coreia, Singapura, Taiwan, Indonésia) e que foram referenciados em trabalhos de Joseph Stiglitz e Paul Krugman, colocaram em cima da mesa das reflexões teóricas e das evidências empíricas a pergunta: porquê estes países, num período de tempo relativamente curto – historicamente falando, levaram menos tempo do que os actualmente desenvolvidos a atingirem patamares de progresso social nunca antes verificados – conseguiram relegar para o baú das (más) recordações os tempos do subdesenvolvimento, das guerras e mesmo da fome? A resposta, ao serem estudadas, com muita minúcia, as experiências daqueles países, foi clara e imediata: a educação.
Da aprendizagem que fui retirando das leituras e estudos das matérias sobre o desenvolvimento sobrou o seguinte: há uma boa e uma má diversificação. A boa é a que se centra num modelo de competitividade de altos salários e elevada produtividade. É o modelo que funciona em contextos de economias abertas e de globalização crescente das forças produtivas nacionais. A má diversificação é alicerçada em salários baixos, produtividades incompetitivas e num mercado doméstico fechado e protector de interesses das elites económicas e políticas. A mais-valia retirada é à custa da exploração da força de trabalho, impreparada para resistir a estratégias empresariais de obtenção de lucro fácil e rápido. Nestes casos, a inserção externa das economias é feita com o apoio de subsídios à exportação, condenados pela Organização Mundial do Comércio.
A diversificação e o seu complexo processo não são matérias da exclusiva responsabilidade do Estado e das suas instituições, mas principalmente uma questão de sobrevivência das empresas, empresários e trabalhadores e da economia do país em situações de choques externos importantes (mais ou menos duradouros) e cujos efeitos se agravam quando os tecidos económicos se concentram numa única actividade de exportação e em produções locais de fraco valor de incorporação e de elevados índices de incompetitividade. A melhoria da competitividade depende, evidentemente, da existência de ambientes de negócios bem estruturados, transparentes e que convidem ao investimento privado. Esta é uma responsabilidade do Governo, do Estado e dos seus serviços de apoio ao funcionamento da economia. Mas, igualmente, dos privados, mormente pela libertação da sua mentalidade de assistidos pelas instituições públicas de quem, afinal, dependem para traçar o essencial das suas estratégias empresariais. E não deveria ser assim. Aliás e apenas a título de reflexão breve, como se pode ajudar a criar uma nova mentalidade produtivista e desenvolvimentista no sector privado nacional, quando as empresas e os empresários não são totalmente independentes do poder político?
Estudos empíricos sobre casos de sucesso de diversificação da economia em situações de posição económica relevante de recursos naturais renováveis existem desde há muito tempo. Alan Gelb e Sina Grasmann4, do Departamento de Economia do Banco Mundial, estudaram uma amostra de países onde as exportações de produtos primários, portanto com fraco índice de valor agregado interno, representavam mais de 60% do total das exportações em 1971. Cinco países com uma média de exportação/PIB acima do limiar estabelecido como referência do estudo – Malásia, Tailândia, Chile, Indonésia e Sri Lanka – tiveram sucessos claros nos processos de incremento do peso relativo do sector manufactureiro no PIB e entre 1975 e 2001 a taxa média anual de aumento do PIB por habitante foi de 3,5%. No caso do Chile, a diversificação centrada na indústria transformadora apresentou a particularidade de o país ter desenvolvido a produção de muitos produtos sofisticados, graças a políticas sustentadas de inovação e investigação científica. Estes e outros autores5 comprovaram também que os processos de diversificação foram bem mais lentos, mais caros e menos bem-sucedidos nos países com uma proporção elevada de exportações de recursos naturais não renováveis, como o petróleo, os diamantes e outros minérios, devido aos conhecidos fenómenos de “rent-seeking” e “doença holandesa”.
A Indonésia parece ser o mais interessante exemplo de como colocar os recursos financeiros da exportação de petróleo a favor do desenvolvimento da agricultura. Mesmo tratando-se de um país com graves problemas religiosos, a aposta nacional determinada em se resistir aos efeitos do “dutch disease” e se desenvolver, em bases extensivas, a cultura e industrialização das diferentes variedades de arroz, deu certo e aparentemente está preparada para sair da fase de economia do petróleo que a caracterizou durante algum tempo. Foi graças a ter-se evitado os efeitos nefastos da “doença holandesa”, através duma política económica global e bem coordenada pelo Estado – ao contrário, por exemplo, de Angola, onde a política económica está departamentalizada e cada responsável a executa sem perscrutar os efeitos (positivos e nefastos) sobre outros domínios económicos e sociais – que permitiu aplicar uma visão estratégica de desenvolvimento, tendo-se investido os ganhos do petróleo na exploração do gás usado abundantemente na produção de fertilizantes para uso doméstico e exportação (Japão). Os adubos são distribuídos para a agricultura nacional a preços subsidiados, facilitando a obtenção de bons lucros para reinvestimento interno noutros sectores. A política cambial foi sempre usada com critério extremo, com a finalidade de se evitar o afastamento da taxa de câmbio de limites considerados incentivadores da diversificação e do crescimento económico.
A República da Coreia, a partir do momento em que a Guerra com o seu vizinho do Norte foi considerada estancada e de muito baixa intensidade (expressa por pequenos arrufos vindos da parte setentrional da Península), passou a organizar o sector da educação através de Planos a 50 anos, com objectivos bem definidos e metas perfeitamente adaptadas à sua filosofia de vida, aos recursos disponíveis e a uma vontade inabalável de se tornar parceiro dos países mais progressivos do mundo. Hoje a realidade é justamente esta: a República da Coreia está no “clube mundial dos mais ricos”.
No final dos anos 80 do século passado, Robert Lucas Jr, economista alemão (Prémio Nobel de Economia em 1995 “Por desenvolver a hipótese das expectativas racionais, que transformou a análise da macroeconomia e permitiu aprofundar o conhecimento da política económica") desenvolveu um dos primeiros modelos de crescimento endógeno. Este modelo especificou a educação como uma das forças críticas para a criação de progresso tecnológico da economia. Mostra ainda o seu modelo que a educação e a criação de capital humano poderiam ser responsáveis, tanto pelas diferenças na produtividade do trabalho, quanto nos níveis tecnológicos. Com base na Teoria Económica, nas experiências de sucesso conhecidas e nas evidências empíricas recolhidas de muitos estudos sobre a temática da diversificação, é possível traçar uma espécie de “road map” do que fazer para facilitar o acontecer desta determinante reforma económica. A diversificação requer uma combinação inteligente de vários factores6:
Uma estabilidade macroeconómica permanente (o controlo da inflação e do défice fiscal – para se evitar o “crowding out” – e uma taxa de câmbio ajustada às disponibilidades de divisas e aos ditames da competitividade fazem parte do pacote deste item).
Uma política de abertura da economia ao exterior (ainda que com elementos restritivos de defesa das indústrias nascentes, necessariamente transitórios e apenas aceitáveis quando resulte aumento sustentado da oferta interna)7.
Uma política de uso intensivo da renda da exportação dos recursos naturais não renováveis a favor do incremento da produtividade de outros sectores potencialmente exportadores e da redução dos custos de produção da economia. Este processo de reciclagem depende da existência de estratégias nacionais dirigidas especificamente à diversificação dos sistemas produtivos internos e da criação de condições atractivas para o investimento privado.
Uma estratégia de valorização do capital humano nacional, do empreendedorismo, da investigação e da inovação. Todos os níveis de educação são indispensáveis para a sustentabilidade do crescimento e para que o processo de diversificação da economia seja inclusivo e, sobretudo, competitivo. Este é o ponto central, não só da diversificação da economia, como de qualquer processo de crescimento sustentável e com repartição equilibrada dos seus frutos. As experiências conhecidas de sucesso de diversificação da economia dão justamente nota da importância do capital humano, da investigação e da inovação para o êxito da criação de tecidos produtivos fortes, competitivos e propiciadores de emprego.
A existência de instituições públicas e privadas e de lideranças políticas e económicas com visão estratégica. Ou numa linguagem mais comummente usada, o capital institucional. Como já anteriormente referido, a questão pertinente neste item é se os países exportadores de recursos naturais não renováveis têm “capabilities”8 e instituições aptas a, duma forma efectiva, gerir altos níveis de rendimentos e a correspondente dependência. Portanto, é manifestamente insuficiente deter recursos naturais, sendo mais relevante o modo como são geridos, em nome da diversificação, da competitividade e da melhoria da distribuição do rendimento. O fraco desenvolvimento institucional em Angola costuma ser considerado como um óbice a uma maior repartição e extensificação dos resultados do crescimento económico. A falta de transparência, o excesso de burocracia, a corrupção, a baixa produtividade administrativa, o relativo laxismo com que os problemas das empresas e das populações são encarados, analisados e resolvidos pelos serviços públicos são factores negativamente influenciadores da organização empresarial e da estruturação das células familiares. Os efeitos perversos da falta desta capacidade institucional em Angola estão agora presentes, quando se instala a crise do preço do petróleo. Uma parte significativa das receitas fiscais do petróleo foi usada no processo de criação de uma elite política muito rica e abastada, com prejuízo da população, da formação e valorização da força de trabalho nacional e da constituição de bases produtivas internas competitivas.
Reconhecida capacidade de boa governação (que finalmente se liga ao capital institucional). Uma gestão avisada, presciente e visionária e também atenta ao comportamento de mercados com elevada volatilidade dos preços tem de, nos países dependentes da exportação de recursos naturais não renováveis, reservar uma percentagem para acudir a situações de quebra dos preços e réditos. São os conhecidos Fundos de Estabilização das Receitas Petrolíferas. Evidências empíricas conhecidas revelam a existência duma elevada má governação nos países africanos exportadores de petróleo.
Disponibilidade de infraestruturas económicas, em quantidade e qualidade que contribuam para a redução dos custos.
A educação e o capital humano podem ser considerados como factores de produção e, por isso, podem ser incorporados no modelo de Solow.
Gregory Mankwi, Paul Romer (juntamente William Nordhaus (companheiro de muitos anos de Paul Samuelson) prémios Nobel de Economia de 2018, por integrarem a mudança climática e a inovação tecnológica no crescimento económico) e David Weil discutiram, longa e profundamente, sobre as formas pelas quais o capital humano poderia ser considerado explicitamente como um factor de produção separado. Com o “modelo de Solow aumentado” foi mais fácil explicar o processo de crescimento económico de muitas economias do que quando se considerava apenas os três factores produtivos clássicos, terra, trabalho e capital (mais concretamente até apenas trabalho e capital). Outros economistas centraram as suas análises especificamente na educação, elegendo-a como o principal factor de crescimento das economias. Chegaram à conclusão – usando séries longas de mais de 50 anos para as economias mais desenvolvidas – de que mais de ¼ do valor das taxas médias de crescimento se deveram à educação.
Como já anteriormente sublinhado, o crescimento económico ocorrido na Ásia Oriental foi espectacular, conferindo à educação e ao capital humano a responsabilidade por esse sucesso. Num estudo do Banco Mundial de 1993, intitulado The East Asia Miracle9 fica claro que foram as melhorias na educação primária (atenção para este pormenor, enquanto alicerce de todo o edifício da educação, devendo merecer apoios, visões e recursos financeiros quase sem limites) que explicaram o desenvolvimento económico nesses países. Apostas a longo prazo na educação provocam este tipo de “incidentes” suficientemente justificativos de apostas temporais estratégicas, patrióticas, bem concebidas e geradoras de vontades genuínas de concretização, em total detrimento de apostas de casino, de tipo circunstancial.
Há muitas maneiras de se incorporar a educação nos modelos de crescimento, em especial no de Solow, como forma de se explicarem os ganhos de crescimento (ou seja, descontados os associados ao trabalho e ao capital), ou mesmo a aceleração da sua intensidade:
Desde logo, considerando-a como um investimento em capital humano. Foi deste modo que Paul Krugman a interpretou nos seus estudos e análises das causas do intenso crescimento do PIB nos então chamados Tigres Asiáticos. O modelo passará, portanto, a ter três causas para o crescimento económico: trabalho, capital físico e capital humano. Assim sendo, qualquer um deste factores produtivos fica sujeito à lei económica de rendimentos marginais decrescentes – quanto maior a sua utilização menores os retornos unitários – e o estado estacionário acontecerá quando a taxa de crescimento económico não for mais rápida do que a taxa de crescimento da população.
Depois, integrando-a nos modelos económicos como uma externalidade positiva. No sentido preciso de Amartya Sen: “eduque-se parte da comunidade e toda ela beneficiará”10. Da mesma forma que as externalidades do capital físico podem ajudar a ultrapassar os rendimentos decrescentes, também o pode fazer o investimento em educação, através da sua massificação. Ideia semelhante descobre-se em Adam Smith (As causas da Riqueza das Nações, título resumido) ao considerar, há mais de 200 anos, que a educação era uma das funções do Estado, porquanto, para além de funcionar como uma externalidade positiva, era uma forma de promover e fortalecer a democracia. Acrescentando os seus efeitos positivos pela sua visão sobre a divisão do trabalho, fonte de valor agregado e de externalidades positivas na economia.
Uma terceira possibilidade considera o capital humano como um factor crítico para as actividades de I&D. Assim sendo, a educação é vista como um recurso adicional para o aparecimento de novas ideias e, consequentemente, todo o investimento acelerará, directamente, o progresso tecnológico. A educação é tida como um factor intencional e que tem como finalidade a criação/invenção de novos produtos por parte dos empresários (algumas evidências empíricas desta abordagem confirmam a relação estreita entre novos produtos e níveis educacionais). Os países que estão na linha da frente do progresso tecnológico são, igualmente, os que possuem as populações mais educadas.
Afinal, três abordagens do modo como a educação deve ser tratada como um factor de produção, mas, no fundo, complementar. As externalidades positivas também são geradas pelos restantes factores de produção e contribuem para atenuar o efeito dos rendimentos marginais decrescentes. O planeamento da educação é exigentíssimo em competências, conhecimentos e habilidades diversas e a sua importância não se pode esgotar na percentagem das despesas orçamentais destinadas a este sector gerador de crescimento e desenvolvimento. É uma discussão absurda.
*Reflexão por ocasião da outorga do Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Católica de Angola, 12 de Dezembro de 2024











































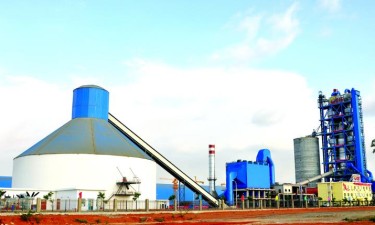

















































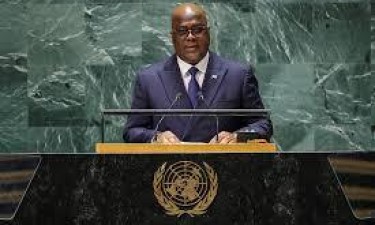






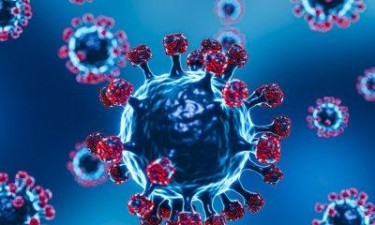









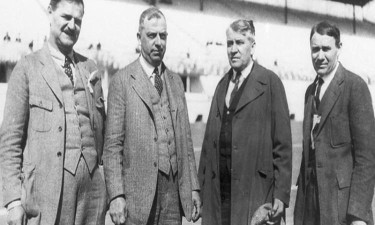
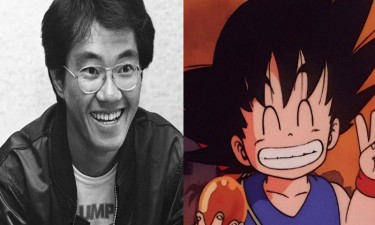

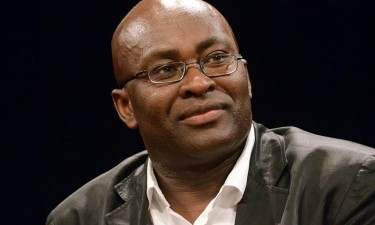


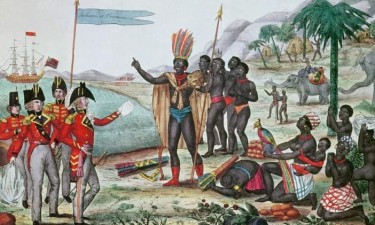



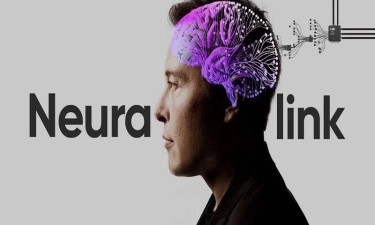









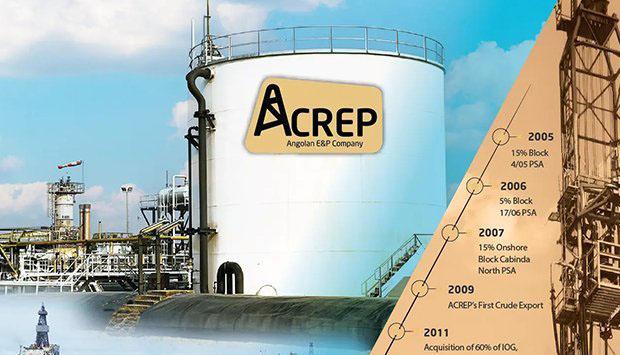




A EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR